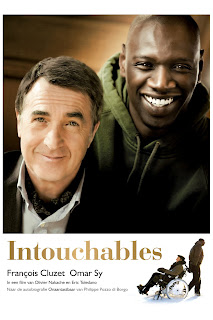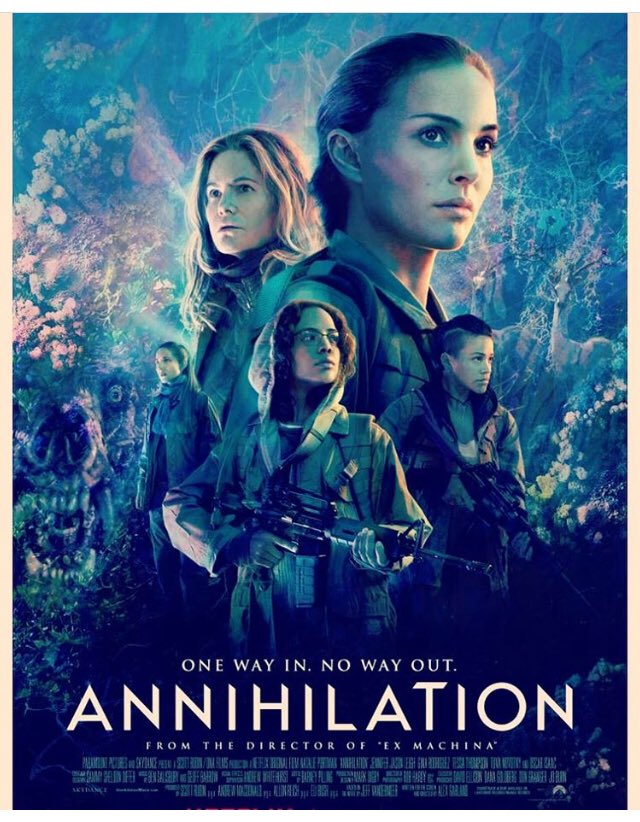Ladrões
de Bicicleta é um dos filmes mais importantes do neorrealismo italiano,
movimento este que se dedicava a retratar as consequências e dificuldades
enfrentadas pela população que sobreviveu a segunda guerra mundial.
As
obras possuíam características diferenciadas das demais, como: baixo orçamento,
filmagens realizadas ao ar livre, uso de atores amadores, uso da língua falada
com diálogos simples, além d o uso da arte para denunciar a miséria prevalente
à época. Muitas foram as críticas por
causa da imagem da Itália retratada através das lentes, levando os diretores a
largarem o movimento anos depois.
Vittorio
de Sica foi o responsável pela direção desta magnifica obra, e sabia como
ninguém demonstrar o principal tema do movimento: o desespero humano pela
sobrevivência. E é ele que nos convida a acompanhar a saga de uma família italiana
da década de 40 que busca a sobrevivência, de forma grave e sentimental.
Todo
o enredo se desenvolve em torno da história de um pai, Antonio Ricci, que busca um emprego e, assim como outros
milhares de italianos, depois de muita espera, acaba sendo chamado para um posto
de colador de cartazes, porém é informado que para este, ele deve possuir uma
bicicleta. Ao retornar para sua casa, ao encontrar-se com sua esposa, Maria, estes
decidem por vender alguns de seus pertences para conseguirem o dinheiro
necessário para aquisição da bicicleta.
O primeiro dia de trabalho é o ponto marcante do
filme, primeiramente, pela alegria expressada por um pai de família
esperançoso, imaginado dias melhores. No entanto logo em seguida a desilusão o toma
devido o seguinte.
Devemos perceber que uma característica
comum às sociedades democráticas é o princípio nuclear do exercício da
liberdade e a garantia da igualdade. Já o princípio constitucional da
solidariedade soma-se a esses princípios no momento em que nos faz afastar da
interpretação dos institutos do Estado de Direito como política individualista,
que subordina a dimensão pública e o interesse geral ao primado absoluto dos
valores e expectativas individuais.
Portanto, o Direito deve ser produto da
vontade de agentes livres e iguais, vez que o Direito democrático considera
todos os sujeitos como autores e destinatários de normas e instituições. Por
isso, devemos ir além da noção de cidadania como mero status legal,
para encará-la como cidadania moral que se materializa nas
condições de participação do indivíduo na sociedade.
Anderson de Almeida
Acadêmico de Direito/UFRN